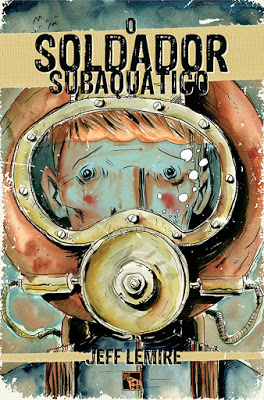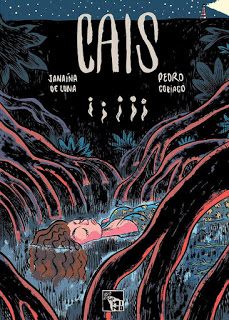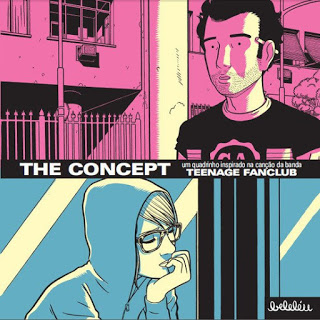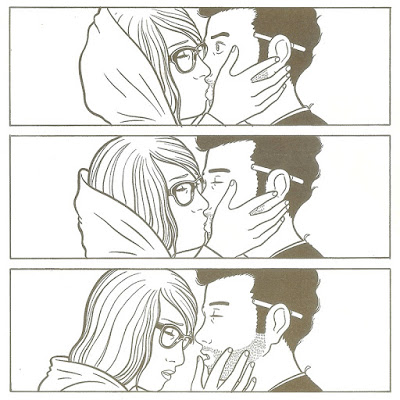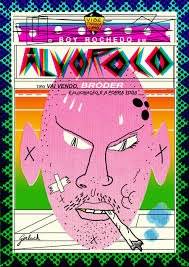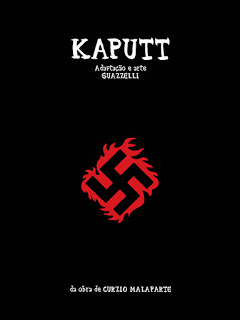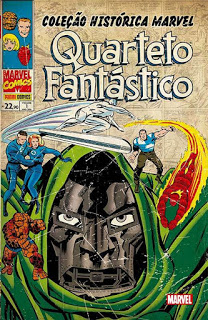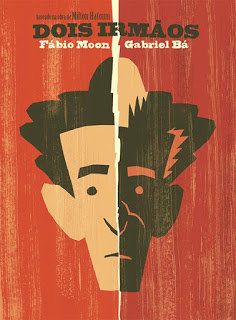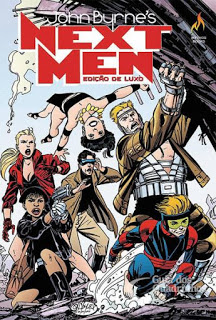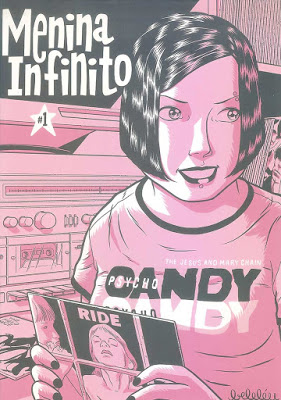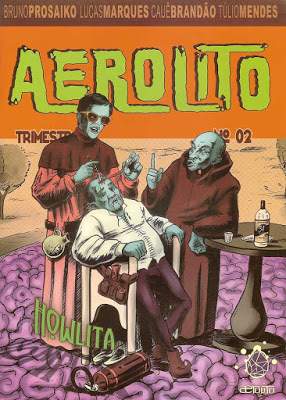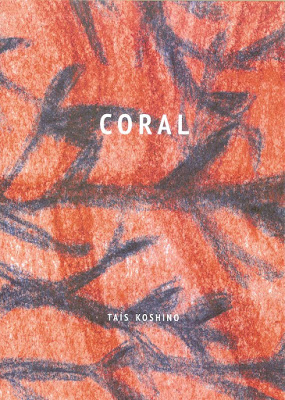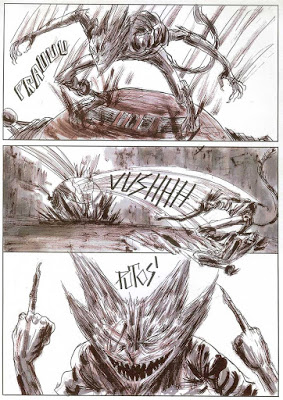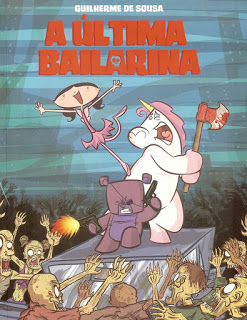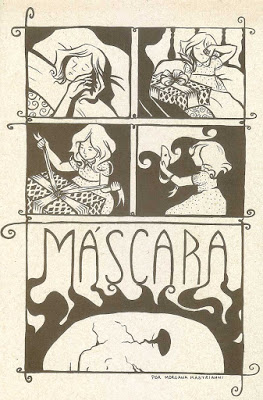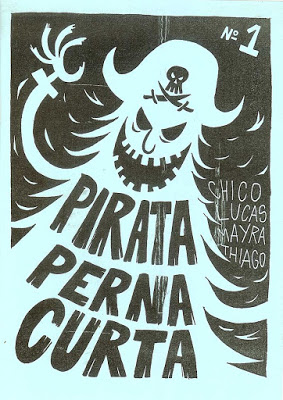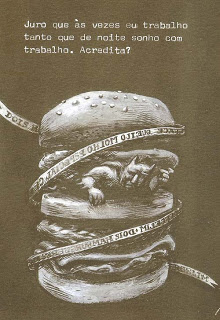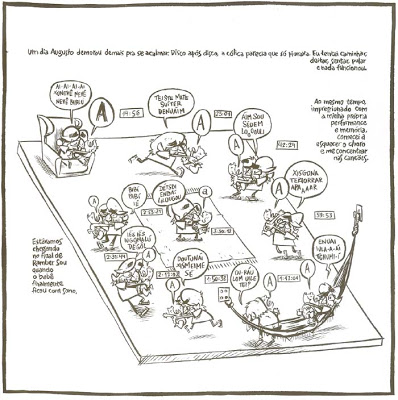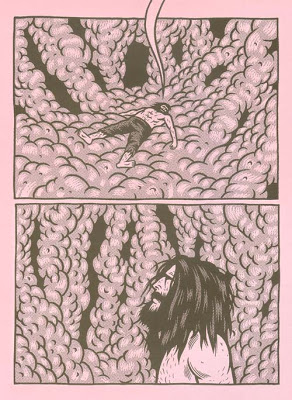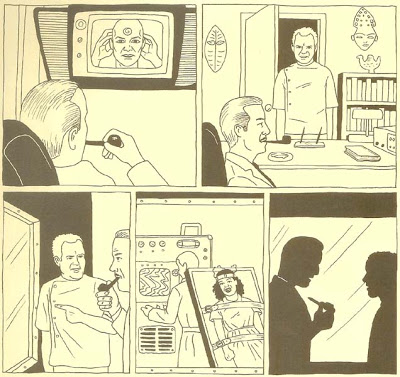por Ciro I. Marcondes
Escrevi aqui sobre alguns dos
quadrinhos nacionais que me chegaram em mãos recentemente. Tem mais coisa por
vir, mas a ideia é fazer uma tentativa de mapear (sem obrigação de
regularidade, sem obrigação de cobrir tudo, sem seguir lançamentos e sem
deadline) uma fração da imensa quantidade de coisas que se tem produzido em HQs
em nosso país, seja em publicações luxuosas, coisas independentes, zines ou
online. Nesta primeira versão da nova seção, privilegiei alguns artistas daqui
de Brasília, não apenas pra ser um pouco bairrista, mas também porque a cidade
está se tornando um celeiro interessante de quadrinistas. Quem quiser nos enviar
suas produções, basta nos escrever em “contato”, ok?
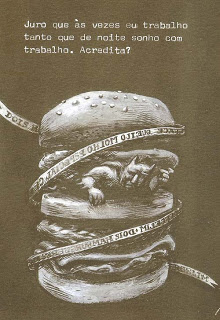 Bátima
Bátima –
André Valente (
Samba, 2011): Haveria com certeza algum
jeito de interpretar sociologicamente essa pérola-express que é o gibizinho
(lembram dos
gibizinhos da
Turma da Mônica? Esse é um Mini-samba)
Bátima. Afinal, é sobre um cara classe-C
que trabalha o cão (estaria vestido “simbolicamente” de Batman pra mostrar o
“herói da vida real” que é) num McDonalds e manda cartas pra mãe fingindo ser
um redator da Globo. Porém, conhecendo o autismo artístico (não se enganem.
Isso é uma qualidade rara) de André Valente, prefiro ver esta pequena história
pelo prisma de sua verve non-sense. Prefiro vê-la (não sei bem explicar por
quê) como salto sem volta na sensorialidade psicótica de um sujeito ainda mais
miserável,
enlouquecido pela cultura pop e pela solidão. Um sujeito sem arestas
egoicas que escreve cartas para uma mãe inexistente, sobre um emprego
inexistente, processando o derretimento de seu aparelho psíquico. E tudo teria
começado quando ele foi batizado “Bátima” (como alguns são batizado “Mai Conjecso” ou
“Cridence”) após seu nascimento.
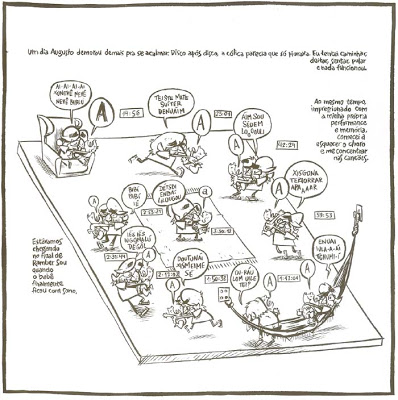 Não fui eu
Não fui eu –
André Valente (2011): Se André Valente é um
quadrinista que possui certo autismo artístico, é porque em suas histórias
eventualmente há um elemento que nos escapa, um ponto cego onde apenas habita o
artista, e nunca o leitor. Isso seria decepcionante se ele não preenchesse todo
o resto com referências e solidez cultural que escapam à maioria dos
quadrinistas brasileiros, fazendo-nos ter que investigar entrelinhas em
quadrinhos simples, mas engenhosamente despojados, com senso de humor que
mistura “O Pasquim” com “Além da imaginação”, bastante refinado. Esta
aparentemente modesta coletânea “Não fui eu”, que se inicia com
Sol e Lua àMéliès, traz uma ótima amostra do equilíbrio quadrinístico e do desequilíbrio
mental de Valente, com destaque para os lindos painéis do primeiro capítulo da
novela gráfica “Coelho”, e para a surrealista “Uma espinha”, que poderia ser a
história longa que o
Laerte nos deve há muitos anos.
 Peixe fora d’água
Peixe fora d’água –
Diego Sanchez e
Laura Lannes (Org., 2011): Esta
publicação independente reune mais de 20 artistas diferentes e com certeza é uma
iniciativa louvável e bem-feita. O problema é que, sustentando essa postura “do
it yourself” que vem junto com a pecha de “peixe fora d’água”, quase todos os
quadrinhos, sketches e poemas dão essa impressão de mal-acabado, de orgulho de
ser tosco, de sumir no non-sense por falta de ideias ou medo delas. A
quantidade de metalinguagem inócua e piadas internas acaba comprometendo o
trabalho todo. Há uma variedade interessante de estilos e técnicas gráficas,
mas a maioria do material sofre com essa síndrome de não querer produzir nada
relevante, de um niilismo inútil. Quadrinhos com baixa autoestima. Não é à toa
que a melhor série do livro é “
Them wishing wells”, de Guilherme Lírio e Vidi
Descaves, bem sacada, feita com desenhos de palitinhos. Logicamente, vale
destacar “Certa manhã acordei de um sonho agitado”, em que a quadrinista Laura
Lannes (talentosa) acorda no corpo do pintor Francis Bacon, além de uma paródia
inteligente de Batman feita por Diego Gerlach. Mas, francamente, quem ainda
está afim de ler
mais uma paródia do
Batman?
 Garoto Mickey
Garoto Mickey – Yuri Moraes (
Dobro quadrinhos, 2011): Quando dou
aula de roteiro cinematográfico, acho que a lição mais valiosa que passo é
a seguinte: “se você não tem nenhuma ideia para criar um roteito, não faça um
roteiro sobre como você
não tem
nenhuma ideia para criar um roteiro”. Acho que essa simples lição limaria
metade dos artistas contemporâneos, e esse seria um mundo melhor.
Garoto Mickey não é uma novela gráfica
ruim, que fique claro. Yuri Moraes tem claro domínio e consciência narrativa,
além de um traço expressivo e simpático. A história é dividida em duas partes
muito claras: primeiro, uma espécie de revisão autobiográfica que tem força
especial nas agruras melancólicas da infância, quando ele fazia uma HQ
porradeira da qual todos gostavam, substituída pelo eterno carma do quadrinho
autoral. A relação com o amigo um tanto obtuso e imbecil, abandonada na idade
adulta, acaba sendo um ponto de verdade na HQ, além de insights de linguagem e
algumas ironias bem marcadas. Mas parece que tudo se perde e a procura por uma
psicologia de si mesmo ganha absurda autoindulgência, com o autor querendo
antecipar as próprias críticas que as pessoas fariam à HQ, numa obsessão em
prever e tapar seus próprios defeitos, o que se transmite, evidentemente, para
os defeitos da HQ. A segunda parte, quando essa autojornada cínica se converte
numa história de ação absurda e até piegas (com o autor fazendo questão de
deixar claro que está fazendo algo piegas – como não?), é que a coisa se
esfarela completamente e as virtudes da HQ se perdem. Não o talento de Yuri
Moraes, é claro. Mas afirmar-se como loser numa HQ não torna ninguém menos
loser, que fique claro.
 Valente para sempre
Valente para sempre –
Vitor Cafaggi (
Pandemônio, 2011): Na
contramão de uma tendência muito experimentalista de boa parte dos quadrinhos
brasileiros contemporâneos,
Valente
vence pela simplicidade. Na forma de uma tira tradicional, num traço simples em
preto-e-branco (mas confiante e cheio de expressões), o talento de Vitor
Cafaggi para representar ideias parece orgânico e fácil, como se simplesmente
tivesse estado a vida toda ao lado dele. E assim é a vida do cachorro Valente,
seus amigos, amores e desamores: simples, natural, intenso, vivo. Publicada
pela Pandemônio, na
antiga forma retangular e monocromática com que antigos
gibis de Garfield e Mafalda saíam, esta coletânea (de tiras ainda saindo na
Internet) é um presente ideal para corações românticos. Uma HQ que, ao optar
por navegar, confiante, pelas águas dos clássicos, dirige-se rumo ao triunfo.
 Duo.tone
Duo.tone –
Vitor Cafaggi (2011): É estranho que a minha reação a
Duo.tone, após ter lido
Valente, tenha sido de ligeira
frustração, já que esta é uma publicação de fôlego um pouco maior, coloridinha
e mais longa, com certeza de maior ambição. A revistinha (legal chamar assim,
porque de fato é isso que essa HQ é), de leitura fácil e despojada em linguagem
simples (mas bem dosada em sequências silenciosas, serializações, metarrequadros,
diálogos naturais e outros recursos) é certamente adorável, e tem potencial
encantador para o público infantil. Mas confesso que, ao contrário do
Valente, onde a gente se envolve e se
emociona, aqui tanta fofura e ternura infantil causam um tanto de desconforto,
uma certa ingrisia que vai se desatinando em mau-humor. Uma
coisa assim, leite de pêra e ovomaltino. Eu aprecio histórias de
growing pains,
mas a primeira delas, do menino loirinho, é muita dor pra pouca desgraça, o que
me fez preferir a segunda, toda silenciosa, do garoto japonês cool e intrépido,
em que Cafaggi
arrisca mais na sua habilidade narrativa, e faz uma homenagem menos piegas ao
contato que um quadrinista tem, na infância, com o mundo dos super-heróis.
 Mix tape
Mix tape –
Lu Cafaggi (2011): Estes outros quatro mini-gibis trazem
essa proposta lírica de emular quatro fitinhas K-7, abordando os temas do som a
da música de uma maneira completamente contrária ao que se poderia esperar de
tal empreitada (ou seja: ideias tímidas se afogando num mar citações e
referências). Ao contrário,
fã de fitinhas K-7 como sou (passei a adolescência
gravando-as pras minhas garotas favoritas), respirei com alívio ao ver que o
trabalho de Lu Cafaggi compõe um delicado tributo à própria memória, à
sinestesia de nossos passados, sendo um deles (o melhor) uma pequena sinfonia
(muda – e
isso me afeta!) de sons preferidos; o segundo a memória de uma
pessoa guardada no som de um piano; a terceira (mais fraca) um diálogo
imaginário com a cantora Patti Smith; e a última a experiência onírica de uma
doce super-heroína. O aspecto fosco, de um violeta apastelado, monocromático,
faz a experiência de ler quase táctil. Uma HQ especial, à altura do trabalho
que Lu Cafaggi, Mariamma Fonseca e Samanta Coan realizam no blog
Ladys Comics.
Kowalski #2 –
Gabriel Góes (Org.,
Samba, 2011): Esta revista é um
spin-off do grupo Samba, daqui de Brasília, que já constitui uma geração
completa de quadrinistas talentosos e realiza um dos trabalhos mais
interessantes das HQs nacionais atualmente. Participam dela, além de Gabriel
Góes, editor e criador do personagem-título, Lucas Gehre e Gabriel Mesquita (os
outros caras da
Samba) e convidados
de peso. Aos poucos, na medida em que as publicações do grupo vão aparecendo,
uma estética em princípio caótica e desajeitada vai se organizando. Fruto do casamento
herético dos quadrinhos com as artes plásticas, a geração Samba desenvolve uma
relação muito visual com os quadrinhos, com a narrativa muitas vezes servindo
como serialização para impressões imagéticas, profanas, coisa de pesadelo
mesmo. Para tornar isso uma práxis refinada, os caras bebem de tudo: cinema,
fotonovela, pin-ups. A capa de Eduardo Belga, surreal e obscena, dá uma amostra
das ambições do grupo. Esta número 2 dá continuidade e aprimora as ideias da
número 1, com alguns feitos mais narrativos, como a paródia “Cidadão Z”, de
André Valente, que horroriza com a figura controversa de Ziraldo, fazendo-o
beber de seu próprio veneno e estilo (do mesmo jeito, mas mais irônico, que
Valente havia feito com
Maurício na número 1); e uma das primeiras histórias de
maior consistência (hmm..) “filosófica” do grupo, “Quando éramos cavalos”, de
Góes e Mesquita, que conta o mundo horrendo e impressionista (cheio de
personagens fofinhos de outros gibis) de um sujeito que presencia um suicídio.

Mas eu ainda acho que o grande
destaque é a série do próprio personagem que dá título à revista, algo que
parece um produto puro, bruto, saído da mente... diferente de Gabriel Góes.
Kowalski e seus amigos são cartoons junkies, que assaltam para fumar crack ou
cheirar pó, e Góes serializa essas histórias num traço infantil e perturbador,
com quadros minúsculos e tortos, sendo a própria viagem do leitor montar estes
efeitos rítmicos. “Kowalski” é sim um tipo de monstruosidade crua e imoral,
parecendo uma versão nada idealista do clássico Freak Brothers, do genial Gilbert Sheldon, mas Góes aos poucos
acrescenta mais sacadas e refinamentos a essa série, mesmo que ainda não seja
possível (se é que um dia será) entender o que esse universo quer dizer. Vale
destacar também a série “A casa das mulheres-pássaro”, de Gehre, um prostíbulo
de action-figures (os antigos “bonequinhos”) e a série de impressões visuais,
circulares, de Gehre e Mesquita, sobre seres em decomposição. Eu
tiraria duas tentativas de séries narrativas: a fotonovela (sei que dá
trabalho, mas não tá engrenando) e “A estrada do diabo”, que, apesar de
graficamente interessante (mas muito derivado de Clowes e Lynch), é menos
impactante do que parece querer ser.
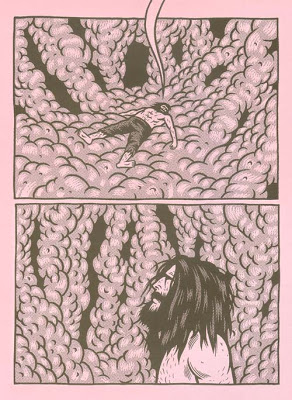 Sim
Sim – Gabriel Góes (Projeto 1000, 0005,
Barba Negra/
Cachalote, 2011):
Góes é um ilustrador de mão cheia, e uma de suas maiores virtudes é mudar de
estilo sem perder sua marca pessoal. Seja no traço torto e macabro de
Kowalski, seja numa história em 3-D, num
cartaz de festival de rock, ou numa história de livro-jogo, sua personalidade,
ainda que coerentemente adaptada aos diferentes gêneros, está sempre visível,
sempre imediatamente identificável. Sua habilidade como narrador e quadrinista
ainda é um ponto a emergir completamente, e esta
Sim é prova de que sua versatilidade onírica e seu imaginário
claustrofóbico vêm ganhando camadas e camadas de densidade. Como de praxe nesta grande iniciativa da
editora Barba Negra e seu Selo Cachalote, esta é uma HQ sem palavras. Góes,
metamorfoseado numa criatura antropomórfica e primitiva (cabeça de lobo e um
tacape na mão), atravessa paisagens psicodélicas e alucinatórias, como se
avançando em camadas mais profundas ou desdobramentos de dimensões de si mesmo,
cruzando com figuras míticas, arquetípicas. Esta HQ, que se experimenta numa
leitura rápida, pode ser pensada toda num
sentido jungiano, um tipo de
representação mítica e lisérgica, mas vou deixar essa análise pra lá. O que
vale mesmo é a robustez do traço e dos grandes requadros panorâmicos de Góes,
imagens inalcançáveis e errantes.
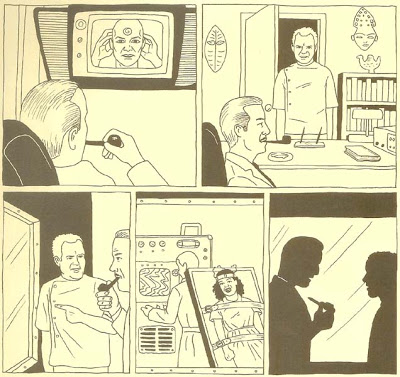 Desvio
Desvio – Daniel Gisé (Projeto 1000, 0003,
Barba Negra/Cachalote
2011):
Desvio, do mesmo projeto que
Sim, curiosamente parte de uma premissa
semelhante, mesmo que o resultado seja muito diferente. O fato de, quando
obrigados a construírem uma série sequencial sem palavras, quadrinistas tendam
a representar o mundo dos sonhos e delírios, geralmente encaixando mundos
dentro de mundos, deve dizer algo muito importante sobre a linguagem visual
muda. Sem a correção das palavras, as imagens têm o poder de correr soltas,
transportarem-se de um mundo para o outro, num livre fluir de formas e cores.
Desvio é mais causal do que
Sim, e Gisé modela uma estranha história
envolvendo dois recém-casados, uma psicótica, um lenhador gay e outras coisas,
num traço clássico, fino, lembrando uma HQ dos anos 50 (onde se imagina ser
também a época da história). A virtude está em, no meio de ações que
subitamente se tornam imaginação e sonhos, o encadeamento sem palavras da HQ
ainda manter os pés no chão, numa organização de alta compreensibilidade,
criando uma aura de enigma não muito fácil de ser alcançada, mesmo que o final
não ofereça respostas.
QHQ