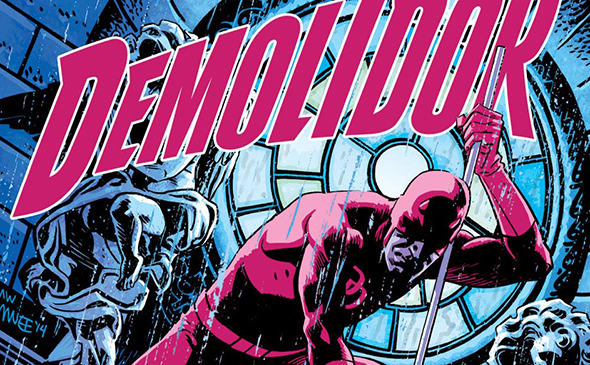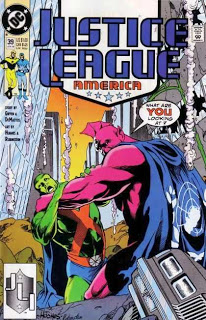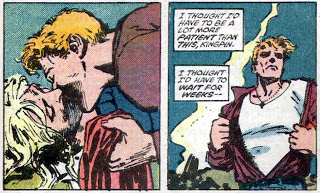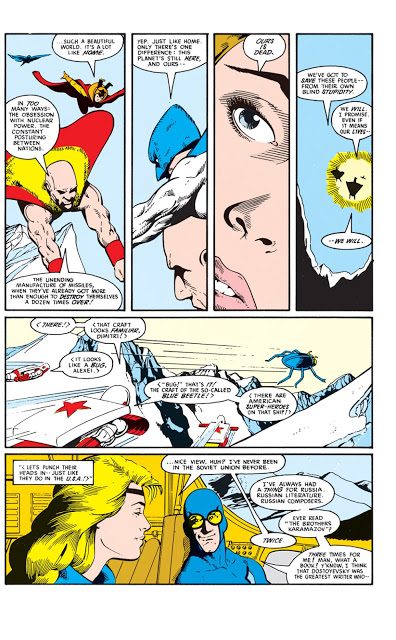Quem debuta por aqui hoje é, com enorme satisfação (nossa), o Thomaz Simões, professor de História da Arte, altamente qualificado, e que mesmo assim escreveu a mais surpreendente crônica sobre os quadrinhos... E ele se apresenta:
Hoje professor, foi graças aos quadrinhos que acabei tomando gosto por desenho e leitura. Me formei arquiteto, fiz mestrado em História da Cultura, em breve começo um doutorado em Antropologia Social... Um dia, em algum lugar, me encontro (espero que tenha quadrinhos por lá).
por Thomaz Simões
 “Romance gráfico”?... Fico na
dúvida se respondo – monossilabicamente, ou melhor, quadrinisticamente – : “sei
não” ou “putz!”...
“Romance gráfico”?... Fico na
dúvida se respondo – monossilabicamente, ou melhor, quadrinisticamente – : “sei
não” ou “putz!”...
Sei que deveria ficar feliz com
esse reconhecimento dos quadrinhos como Arte, mas... sei não. É que no fundo não
ligo. Isso vem lá da minha adolescência e, por isso mesmo, é digno de nota:
perdido, “sem pai nem mãe” no tiroteio da fase, consumia, colecionava, quilos
de “gibis” sem peso na consciência de estar sendo infantil...
Certa vez, para a incredulidade do
meu pai, pedi que enviasse uma carta com “perguntas ao editor”, dúvidas sobre
detalhes quase insignificantes detectados no meio das histórias (vinham muitas
vezes de notas de rodapé – marcadas com asterisco – com referências a números
ou personagens antigos), resumindo: qualquer sombra de cultura quadrinística
que me faltasse eu ia atrás.
Pleno sol de subúrbio carioca, lá
ia eu me embrenhar em sebos, quero dizer, bancas velhas e falidas (que, para
mim, desempenhavam a mais nobre das funções sociais) procurando os números
perdidos. Demolidores de Miller e Mazzucchelli, Ligas da Justiça de
Giffen-DeMatteis-Maguire (depois Hughes), Justiceiros de Potts e Lee... Bons
tempos.
Pois bem, plena adolescência... de
onde vinha toda essa segurança? (Olha que eu era dos mais tímidos, daqueles que
dava graças a Deus por ter alguns poucos amigos que aceitavam, ou não
percebiam, minhas esquisitices.) A resposta só deve surpreender a quem não é do
meio: ora, vinha dos próprios quadrinhos! Eles valiam a pena. Eram a melhor
coisa que havia.
Meus heróis, vejam bem, não eram
exatamente os personagens a ou b, mas os personagens a ou b
escritos e desenhados por x e y. Eram sensacionais. (Imaginem minha
satisfação quando, tempos depois, encontrei uma história do Ken Parker em que
aparecem Berardi e Milazzo. Simplesmente genial.)
Vamos colocar as coisas nos
seguintes termos: se havia muitos que ridicularizavam os quadrinhos, o problema
para mim não era o que eles achavam dos quadrinhos, e sim o que os quadrinhos
achariam deles. Aqui retomo meu ponto inicial: “Romance gráfico”? Putz!
 No meu tempo graphic novel denotava simplesmente trabalhos
esporádicos, mais cuidadosos e, sobretudo, mais caros. Eram uma festa para
olhos acostumados a papel jornal, mas de forma alguma outro patamar de
qualidade. Afinal eram os mesmos autores, apenas, vamos dizer, mais maquiados.
Vem daí minha desconfiança. Os quadrinhos nunca precisaram desse tipo de
reconhecimento, ou mesmo, arrisco dizer, sempre desdenharam dessa tendência
esnobe. Sua “arte” surge em meio a um turbilhão de aventuras repetitivas,
anestésicas, após muito suor inútil, – como que por acaso.
No meu tempo graphic novel denotava simplesmente trabalhos
esporádicos, mais cuidadosos e, sobretudo, mais caros. Eram uma festa para
olhos acostumados a papel jornal, mas de forma alguma outro patamar de
qualidade. Afinal eram os mesmos autores, apenas, vamos dizer, mais maquiados.
Vem daí minha desconfiança. Os quadrinhos nunca precisaram desse tipo de
reconhecimento, ou mesmo, arrisco dizer, sempre desdenharam dessa tendência
esnobe. Sua “arte” surge em meio a um turbilhão de aventuras repetitivas,
anestésicas, após muito suor inútil, – como que por acaso.
E para quem costuma opor
quadrinhos à “alta cultura”, deixo aqui o registro de uma aventura da LJA na Rússia
(antiga União Soviética...): Sobrevoando aquelas paisagens brancas sem fim,
rumo ao combate contra um trio de extraterrestres (que, pacifisticamente,
queria salvar a Terra das armas atômicas), o sátiro Besouro Azul comenta com
Canário Negro:
– Já leu Os Irmãos Karamázov?
– Duas vezes.
– Eu três... BOOM! (A
nave é interceptada.)
Nem preciso dizer que só depois
disso me interessei por Dostoiévski.